Nesta entrevista de uma hora, gravada a convite em sua casa em Nova York em 22 de fevereiro de 2006, Robert Spitzer, presidente da força-tarefa para as duas grandes atualizações do Manual de Diagnóstico e Estatística dos Transtornos Mentais (DSM), discute longamente as suas razões para acrescentar mais de 100 novos transtornos, incluindo 7 novos transtornos de ansiedade, ao DSM-III em 1980.
 O psiquiatra da Universidade de Columbia mostra como os críticos podem ter desacreditado estas e outras mudanças; suas decisões sobre inclusão, exclusão, expansão e renomeação; as controvérsias que se acumularam sobre a psicanálise e abordagens psicodinâmicas; a relação da homossexualidade com o desenvolvimento normal; o risco de falsos positivos e de patologizar as reações normais; e o papel que as empresas farmacêuticas desempenharam no patrocínio de pesquisas e conferências-chave utilizadas para justificar alguns dos novos transtornos.
O psiquiatra da Universidade de Columbia mostra como os críticos podem ter desacreditado estas e outras mudanças; suas decisões sobre inclusão, exclusão, expansão e renomeação; as controvérsias que se acumularam sobre a psicanálise e abordagens psicodinâmicas; a relação da homossexualidade com o desenvolvimento normal; o risco de falsos positivos e de patologizar as reações normais; e o papel que as empresas farmacêuticas desempenharam no patrocínio de pesquisas e conferências-chave utilizadas para justificar alguns dos novos transtornos.
Há muito tempo se acreditava haver estado perdida, a entrevista é publicada na íntegra pela primeira vez após ter sido recuperada recentemente.
A entrevista abaixo foi editada por tempo e clareza, para evitar repetições.
Christopher Lane: Vários artigos a seu respeito mencionam que antes de você desenvolver um interesse pela biometria, a sua carreira na verdade começou com as teorias psicanalíticas de Wilhelm Reich. Estou curioso, como foi que isso aconteceu?
Robert Spitzer: Acho que quando eu tinha nove ou dez anos, a minha mãe me mandou para um psicanalista porque eu a havia esbofeteado. Mas eu realmente não fiz terapia. Quando eu tinha 15 anos, eu tive um professor de inglês que tinha tido um treinamento com o Reich. Ele era um aluno do Reich e fazia terapia Reichiana. Fiquei intrigado com a sua abordagem. Eu era um tanto quanto radical, o que fez essa abordagem me atrair.
Lane: Com o trabalho de diagnóstico que você ajudou a desenvolver a partir do grupo da Universidade de Washington em St. Louis e seu enfoque em regras “consistentes e confiáveis” para o diagnóstico, o que aconteceu com o seu interesse clínico?
Spitzer: Eu tive um treinamento psicanalítico e me formei na Columbia, mas não me formei. Acho que eu era um pouco encrenqueiro. Quando eu era um pesquisador, fiz alguma psicanálise. Mas nunca me senti muito à vontade para fazer isso. Eu não tinha certeza se estava ajudando alguém e muitas vezes não sabia o que estava fazendo.
Lane: Gostaria de me concentrar esta tarde em algumas questões relacionadas: a questão da validade do diagnóstico e da sua importância central para o DSM-III. E a classificação de novos transtornos de ansiedade em 1980, tais como transtorno de ansiedade generalizada, fobia social (mais tarde renomeado transtorno de ansiedade social), e transtorno de pânico. Em um artigo em coautoria com Ronald Bayer sobre a história imediata do DSM-III, você escreveu que a Força Tarefa a que presidiu por vários anos “teve as suas raízes intelectuais em St. Louis ao invés de Viena. E derivou a sua integração intelectual a partir de Kraepelin, não de Freud”. Dada sua formação na Columbia, você estava preocupado com as discrepâncias entre as duas abordagens – que ao seguir Kraepelin, digamos, as dimensões inconscientes da formação de sintomas cairiam fora de cena?
Spitzer: Acho que a maneira como vimos isso … A abordagem Kraepelin só significava que estávamos interessados em uma descrição. Estávamos interessados no curso da doença e evitávamos teorias sobre ideologia.
Lane: Podemos voltar à questão da ideologia, mas do ponto de vista do tratamento, isso não ignora ou diminui um outro conjunto de preocupações sobre o significado dos sintomas e as questões subjacentes que podem ser ditas que os produzem?
Spitzer: Bem, claro que sim. O DSM os deixou todos de fora! De uma perspectiva psicanalítica, se você olhar para algo como transtorno de pânico, há um impulso e há algo que é inconscientemente afastado. Sentimos: ‘Essa era uma teoria interessante, mas não saberíamos o que fazer com ela’. Então …
Toda a abordagem que adotamos com o DSM-III foi desenvolver um sistema de diagnóstico que as pessoas que tinham orientações totalmente diferentes ainda assim poderiam utilizá-lo. Assim, se um psicanalista pensasse que o transtorno de pânico se baseava em impulsos que eram recalcados, ele ou ela ainda poderia usar este sistema. Os terapeutas comportamentais também … Se você está perguntando se é uma abordagem diferente: Claro, é uma abordagem diferente.
Lane: Como você pessoalmente negociou as tensões entre estas abordagens?
Spitzer: Eu negociei a discrepância ao retirar a minha catarse da psicanálise. Quero dizer, eu suponho que poderia ter sido que de dia eu era um DSM [sic] e de noite eu era um psicanalista, mas não foi assim que funcionou na prática, em parte por razões intelectuais e em parte por razões pessoais. Minha experiência com a psicanálise – e eu tive muitas tentativas diferentes para isso – foi em grande parte mal sucedida. Portanto …
Durante os primeiros anos enquanto eu comecei a trabalhar no DSM em 1974, eu ainda estava vendo pacientes e isso parou. Eu costumava fazer uma piada de que o meu consultório particular se tornava cada vez mais privado a tal ponto que não havia ninguém lá [Risos]. Acho que o máximo que eu fazia eram 15 horas por semana.
Lane: E se movendo entre estes mundos diferentes?
Spitzer: Sim, eles são mundos muito diferentes. Acho que muito do meu sucesso no DSM foi poder negociar com diferentes grupos. Ter um treinamento analítico certamente me permitiu lidar melhor com as pessoas, embora … isso tenha se tornado um verdadeiro conflito na época.
Lane: Você fez comparações sérias entre o tratado de paz negociado entre o Egito e Israel, o que iria colocar os riscos em alta de fato. O que estava motivando a frustração dos analistas com o processo DSM?
Spitzer: Eu acho que eles podem ter se sentido traídos. Bem, a primeira traição foi com a coisa da homossexualidade [a sua retirada da lista como um transtorno mental e a sua retirada do DSM em 1973, um desenvolvimento que Spitzer ajudou a negociar]. Particularmente o grupo analítico da Columbia se sentiu muito traído e zangado comigo por isso.
Lane: A posição deles na época era tão retrógrada e não-psicanalítica – até mesmo bastante anti-freudiana …
Spitzer: Você quer dizer que Freud não considerava a homossexualidade como uma doença? É verdade. Mas ele também não a considerava como parte de um desenvolvimento normal. Bem, eu não a considero como um desenvolvimento normal.
Lane: No final de sua carreira, com certeza Freud havia abandonado completamente a idéia de um desenvolvimento normal …
Spitzer: [Aparentemente não ouvindo.] Sabe, na verdade eu escrevi para o Reich uma vez e ele me escreveu de volta. Quando fiz as minhas experiências e todas elas saíram negativas, escrevi para perguntar por que não estava obtendo bons resultados. Isto deve ter sido em 1952, suponho eu. E recebi de volta uma resposta dele dizendo que a razão era por causa dos testes com bombas atômicas. [Risos.] Infelizmente eu não guardei a carta – teria ficado bem em um quadro.
Lane: Voltemos à questão chave da patologização e da despatologização. Voltando a 1968, se me permite, com a publicação do DSM-II, você co-editou com Paul Wilson “A Guide to the APA’s New Diagnostic Nomenclature” (Um Guia para a Nova Nomenclatura Diagnóstica da APA). O artigo é de grande interesse para mim porque nele você discute “a eliminação da palavra ‘reação’ dos rótulos como ‘reação esquizofrênica’, ‘reação paranóica'”, e assim por diante – um grande desenvolvimento, certamente, em como conceitualizamos e descrevemos o diagnóstico psiquiátrico. Houve uma longa discussão na época sobre a realização dessa mudança?
Spitzer: Sobre como fazer isso? Não, não houve nenhuma discussão. Não, não. Você tem que entender: a APA tinha decidido com o DSM-II usar o CID-8. O CID-8 foi escrito por uma pessoa, [Senhor] Aubrey Lewis no Maudsley [Instituto de Psiquiatria, Londres], e ele não apresentou a palavra reação, então, para nós, nunca houve nenhuma discussão.
Lane: Em uma visão a posteriori, como a força-tarefa DSM-III acabou discutindo sobre vírgulas, parênteses, e um pouco mais, certamente isso foi uma grande redefinição …
Spitzer: Bem, o DSM-II adotou o CID-8 com apenas algumas pequenas e minúsculas mudanças. Você poderia fazer uma comparação. Havia alguns subtipos e transtornos de conversão – esqueci o que eram… mudanças muito triviais.
Lane: Mas apagar a palavra reação de alguns tipos designados de doenças mentais – em um manual de diagnóstico que também pretende defini-los e para que os clínicos os reconheçam – ainda é uma mudança importante porque está alterando o status ontológico da condição …
Spitzer: Sim. Sim, é uma grande mudança. Acho que se houvesse alguma discussão, ela seria na ordem de “Não acrescentamos nada, apenas colocando a palavra reação a tudo”. Você ainda pode acreditar na psicobiologia sem ter a palavra [reação] ali. Esse teria sido o argumento. Mas duvido que houvesse qualquer argumento, porque, naquela época, apenas ter a palavra reação não significava muito.
Lane: Exceto que removê-la significava que se estava de fato transformando uma reação a algo como mais como um estado duradouro, possivelmente vitalício. Sem uma causa óbvia, na medida em que vocês também eliminaram os fatores de estresse que poderiam estar ligados ao meio ambiente, status econômico, dinâmica familiar e assim por diante …
Spitzer: Bem, o que estávamos dizendo é: “Deixar cair a palavra reação não significa realmente nada”. Acho que isso provavelmente é verdade – não acho que tenha significado muito. Com o DSM-III houve enormes controvérsias sobre este e outros desenvolvimentos quando ele foi lançado. Mas com o DSM-II, acho que houve um artigo, possivelmente em um jornal, onde William Menninger sugeriu que ao adotar o CID-8 [baseado na Europa], estaríamos perdendo a contribuição da psiquiatria americana. Agora se ele estava respondendo à questão da reação eu não me lembro. Eu sei que houve essa única reclamação.
Lane: Eu li diferentes relatos de como a Força Tarefa DSM-III começou e como você foi nomeado, dado o seu histórico e trabalho na edição anterior. Se você olhar para trás agora em meses como abril de 1979, quando a questão sobre a neurose da ansiedade, já há algum tempo, claramente …
Spitzer: … sim, chegou-se a uma conclusão, então …
Lane: Como você caracterizaria esses meses agora?
Spitzer: Eu não me lembro bem deles. Lembro-me da reunião final da assembléia onde eles me aplaudiram de pé. Porque, naquele momento, o grupo analítico estava realmente tentando derrotar tudo. E havia a possibilidade de que eles pudessem ser bem sucedidos. Estava tudo sobre a distimia versus a depressão neurótica. Além disso, o meu casamento estava caindo aos pedaços ao mesmo tempo. Portanto, havia muita coisa acontecendo.
Lane: Se pudermos recorrer a um artigo de novembro de 1975, você escreveu em conjunto com Endicott e Robins, “Clinical Criteria for Psychiatric Diagnosis in DSM-III” (Critérios Clínicos para Diagnóstico Psiquiátrico em DSM-III), sua razão de ser claramente afirmada era reduzir a variabilidade e, ao mesmo tempo, aumentar a confiabilidade no diagnóstico psiquiátrico. No entanto, o artigo discute variáveis que complicam esses fins, tais como ‘variantes do caso’ – presumivelmente, como uma doença pode ter diferentes cursos e crises em diferentes momentos – e uma questão interpretativa contínua sobre se dois ou mais diagnosticadores realmente vêem as coisas da mesma maneira. Ambos vão ao âmago da confiabilidade entre os participantes.
Spitzer: Um paciente diz algo: como você sabe que encontra-se…? Duas pessoas podem dizer: “Bem, isso preenche esse critério” e alguém diz: “Não, não preenche”. Isso é um grande problema. Ainda é um grande problema.
Lane: Tanto quanto posso dizer da correspondência sobre o DSM-III, sua perspectiva na época era …
Spitzer: … que a variação que envolve a falta de confiabilidade do diagnóstico seria minimizada.
Lane: … ou possivelmente até mesmo resolvida para sempre…
Spitzer: Bem, ainda está lá. Fomos acusados de exagerar quanto à melhora da confiabilidade. Não sei se você está familiarizado com o trabalho de Herb Kutchins e Stuart Kirk. Eles escreveram vários livros críticos do DSM-III e -IV. E o argumento deles foi que nós exageramos na melhoria da confiabilidade. Como parte disso, eles citam Gerald Klerman [colega do Spitzer], que em um debate sobre o DSM-III disse: “O problema da confiabilidade [de diagnóstico] ter sido resolvido. O que é lamentável, pois não foi resolvido de forma alguma. Eu acho que há alguma verdade …. Se você perguntar agora aos clínicos o quanto o DSM é confiável ou quanto o melhorou, não sei o que eles diriam, mas é uma modesta melhoria”.
Depende também das configurações. Em ambientes especializados, como se você for a uma clínica de transtornos alimentares ou de ansiedade, você pode – especialmente se você usar a estrutura com cuidado – obter muito boa confiabilidade, do tipo 0,8. Mas, se você apenas atende pacientes em ambiente ambulatorial, você está falando 0,6, o que é … muito pobre – muito modesto.
Lane: Isso o leva a repensar o foco no Kraepelin?
Spitzer: Eu não sei o que se vai repensar. Para onde se vai? [Risos].
Lane: Talvez repensar alguma de sua ênfase em categorias e comportamento observável? Afinal de contas, todo o ímpeto era minimizar a sua falta de confiabilidade.
Spitzer: O que se pode fazer se você achar que não pode minimizar isso na medida do que gostaria? Quero dizer, o que você faz nesse ponto? Existe outra abordagem que você vai adotar? Houve um artigo no New York Times há cerca de um mês sobre este novo sistema de diagnóstico psicanalítico. Há um grupo analítico que produziu um sistema de diagnóstico psicodinâmico que é suposto ser um complemento do DSM, não em concorrência com ele… É uma abordagem interessante, para se afastar do comportamento observável. Como eles serão bem sucedidos, não sei.
Lane: De certa forma, isto se liga de volta ao grupo St. Louis, onde começamos. Em seu ensaio “Diagnostic Criteria for Use in Psychiatric Research”, de 1972, Feighner reconhece: “Os resultados consistentes e confiáveis do laboratório ainda não foram demonstrados nos transtornos psiquiátricos mais comuns”.
Spitzer: Isso é certo.
Lane: Ainda é esse o caso, depois de algumas atualizações do DSM?
Spitzer: Oh, eu acho que é absolutamente o caso. É interessante, ao falar do DSM-5, sobre o qual eu não tenho nenhum papel, algumas pessoas na APA disseram: “O que vamos tentar fazer no DSM-5 é trazer a etiologia biológica para dentro dele”, e eu acho que isso é simplesmente bobo e prematuro. Não há maneira de fazer isso na melhor das hipóteses.
Lane: Somente a etiologia biológica, não a da psicologia ou dos determinantes sociais…?
Spitzer: Não, não era sobre isso que eles estavam falando.
Lane: Com Feighner, ele foi o seu critério para neurose de ansiedade [incluída no DSM-II]. É claro que ele não tem subtipos para o diagnóstico, mas ele é muito preciso quanto aos seus limiares. Ele diz: “deve ter havido pelo menos 6 ataques de ansiedade, cada um separado por pelo menos 1 semana dos outros”, e assim por diante. Como os vários subtipos e formas de transtorno de ansiedade foram considerados o foco de sua força-tarefa, você acreditava que poderia manter o mesmo grau de precisão e consistência ou chegou a pensar que Feighner estava estabelecendo uma barra muito alta para que o diagnóstico ocorresse?
Spitzer: Simplesmente esqueci o critério Feighner para a ansiedade. Acho que era realmente apenas pânico, dada a sua menção de “ataques”. Então ele não reconheceu o Transtorno de Ansiedade Generalizada [listado pela primeira vez no DSM-III 8 anos depois, em 1980]. Bem, nós criamos esse nome depois que tivemos neurose de ansiedade em DSM-II e se você tivesse pânico, teria que haver algo que sobrou, de modo que se tornou um transtorno generalizado de ansiedade. E depois houve a discussão das fobias sociais. Bem, havia sempre a noção de que existiam fobias. Então, a noção comum de fobias era a de fobias específicas. E então as pessoas diziam: ‘Bem, mas algumas fobias são mais generalizadas’, e isso se tornou a fobia generalizada. E mais tarde, isso se tornou fobia social. E agora, com o DSM-IV, é um transtorno de ansiedade social, que é um termo melhor do que fobia social.
Lane: Podemos voltar ao momento em que o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico estavam começando a ser diferenciados, porque este é certamente um passo bastante complicado.
Spitzer: Bem, as fobias geralmente não levam a ataques de pânico. Portanto, não creio que tenha havido muita discussão sobre a separação do transtorno de pânico das fobias.
Lane: Eu estava me referindo ao que você disse que o transtorno de ansiedade generalizada tinha que ser distinguido dos transtornos de pânico porque “tinha que haver algo que sobrou…”.
Spitzer: Bem, veja, nós começamos com a neurose da ansiedade, DSM-II. Vem Don Klein [um colega na Columbia] e diz que há uma coisa chamada transtorno de pânico, que Feighner havia chamado de neurose de ansiedade. Se é para reconhecer o transtorno de pânico, nosso pensamento era, claramente, a neurose de ansiedade do DSM-II era uma categoria mais ampla, então precisávamos de um nome para essa outra parte, e isso era transtorno de ansiedade generalizada.
Lane: Certo. Mas o que é tão complicado sobre fobia social – uma fobia de pessoas, um objeto diverso e imensamente variado – é que não parece funcionar como uma fobia convencional, que eu acho que é por isso que foi renomeada …
Spitzer: Não, não é uma fobia convencional.
Lane: Então como se distinguiu de uma fobia específica, que tem um alvo mais estreito?
Spitzer: Bem, eu acho, você sabe, que com uma fobia específica há coisas que assustam as pessoas e elas as evitam: alturas, túneis, cobras, cães, coisas desse tipo. E então as pessoas diziam: ‘Bem, algumas pessoas evitam as pessoas, então vamos chamar isso de fobia social’. Quero dizer, vamos chamar isso de fobia generalizada.
Lane: OK, mas você vê como separá-los fica tão complicado? Quero dizer, também foi evitada o transtorno de personalidade [introduzido de forma semelhante pelo DSM-III em 1980] …
Spitzer: Bem, evitar transtornos de personalidade [risos] é basicamente idêntico à fobia social. Isso se desenvolveu a partir das pessoas de personalidade, que queriam evitar o transtorno de personalidade, e realmente era embaraçoso que estava claro que era a mesma coisa que fobia social.
Lane: Eu estava discutindo isso recentemente com Michael Liebowitz e Richard Heimberg, que acho que estavam no grupo de Transtornos de Ansiedade do DSM-IV. A preferência deles era pensar na fobia social como um continuum com formas crônicas e mais brandas, com subtipos que eles conceberam, com base em ansiedades situacionais como ansiedade de fala pública e constrangimento em relação a comer sozinho em um restaurante. Obviamente, sou um outsider nesse assunto, mas quando vejo estes e outros transtornos tão manifestamente se proliferando, com seus subtipos tão obviamente sobrepostos, ainda que o diagnóstico duplo não seja apenas permitido, mas freqüentemente encorajado, há sinais claros de redundância e um grande risco de sobrediagnóstico. É realmente necessário voltar a um momento anterior para ver como estas coisas foram criadas e porque pareciam tão cruciais na época, quando pessoas como Feighner pareciam bem em representar a neurose da ansiedade por si só, como uma categoria genérica para todos os tipos.
Spitzer: Bem, em relação à minha memória, lembro-me muito claramente de como surgiu o transtorno de ansiedade generalizada. Minha memória das fobias específicas mudando para fobias sociais não é tão clara. Essencialmente, sempre se tratava de pessoas do Grupo de Trabalho, e elas reconheciam clinicamente um subgrupo que elas achavam que deveria ter um nome diferente.
Lane: Então, eles estavam chegando a critérios que eles acreditavam poder operacionalizar com você – essa era a maneira de iniciar a discussão em torno da inclusão?
Spitzer: Certo.
Lane: Deixe-me citar este interessante relato da Força Tarefa, que remonta ao início da entrevista: “A Força Tarefa acreditava que o grande conjunto de evidências etiológicas apresentadas por aqueles comprometidos com uma perspectiva psicodinâmica não poderia servir como base para definir as categorias de diagnóstico”. Já cobrimos um pouco disto e sei que você queria consistência, uma abordagem multiaxial e uma teórica. Também fica claro da leitura de perspectivas alternativas sobre este processo, inclusive pela comunidade psicodinâmica, que eles realmente sentiram que tinham um conjunto de categorias diagnósticas a oferecer. Também é o caso de que há sempre alguma etiologia no DSM-III – não falta completamente e, portanto, teórica – mesmo na forma como as coisas são denominadas, tais como fobias e transtornos.
Spitzer: Bem, a única etiologia é uma por definição. Você sabe, transtornos de pânico ou transtornos de angústia. Transtornos de estresse pós-traumático: pode-se dizer que a etiologia está lá. Transtorno de ajuste. Mas além desses transtornos, onde por definição há um transtorno de estresse, não há etiologia.
Lane: Presumivelmente também, fobia social …
Spitzer: Certo. A crítica analítica do DSM-III como estava se desenvolvendo não era: “Nós temos outra maneira de classificar”. Eles não diziam: “Aqui está o nosso sistema de categorias”. A principal queixa deles foi que na descrição dos transtornos deixamos de fora os fatores psicodinâmicos.
Agora há uma história interessante sobre isso. A Associação Psicanalítica Americana tinha um comitê de contato que se reunia comigo. E o presidente do comitê disse: “O problema é que sabemos muito mais sobre esses transtornos do que o DSM-III coloca lá dentro”. Bem, o que ele queria dizer era o [lado] psicodinâmico. Então eu disse: ‘Por que você não pega um transtorno e o escreve da maneira que você pensa, com as coisas que você acha que não temos lá dentro’. Então eles o deram a Larry Rockland, que por acaso era um amigo meu. Ele pegou o TOC e escreveu a sua psicodinâmica. E foi embaraçoso. Ele tinha incluído “conflitos anais” e outras coisas. E então eu disse: “Isto não vai dar certo”. Isto não é algo que possamos usar”.
[Chistopher Lane procura esclarecer, em 2022: a proposta de Rockland não fez tal caracterização. Em vez disso, ele escreveu a Spitzer: “Parece ser parte do argumento geral em todo o DSM III que listas de sintomas são, de alguma forma, fatos mais científicos e ‘mais difíceis’ do que teorias psicodinâmicas confusas e fantasmagóricas. Eu acho que esta é uma caracterização muito injusta do pensamento psicológico”. Rockland acrescentou que ele queria que fosse dada mais atenção às “tonalidades e variedades particulares do conflito intrapsíquico, que existe em toda psicopatologia e em todas as pessoas”. Daí sua “tentativa de um diagnóstico positivo de transtorno de ansiedade baseado em uma compreensão psicodinâmica do paciente, dos conflitos do paciente e das tensões psicossociais operantes, o que se soma a uma imagem coerente da razão pela qual o paciente desenvolveu uma neurose de ansiedade neste momento”. Rockland para Spitzer, “Some Thoughts on the Subject”: Should Psychodynamics Be Included in the DSM III”, memorando inédito c. Janeiro de 1978, citado com permissão da APA em Lane, Shyness: How Normal Behavior Became a Sickness, p. 54].
Lane: Há um paradoxo interessante em que quando a psicanálise tenta ser precisa no diagnóstico ou estabelecer critérios rigorosos de inclusão e exclusão, as pessoas se rebelam imediatamente contra ela. Pode ser algo sobre a própria abordagem que precisa ser menos esquemática ou formulada.
Spitzer: Você próprio já teve um treinamento analítico?
Lane: Não, embora eu já o tenha contemplado muitas vezes. Tenho bons laços com o Instituto Psicanalítico de Chicago e trabalhei com um teórico psicanalítico durante toda a pós-graduação [Jacqueline Rose], focalizando principalmente a história da psicanálise e da psiquiatria. Sob essa perspectiva, esta parece ser uma questão recorrente para o campo sobre definição e reducionismo, embora seja também uma dinâmica na cultura em geral, com cuidados administrados e as seguradoras querendo critérios limitados de reembolso para qualquer tipo de psicoterapia.
Spitzer: Bem, o conjunto … Há um livro muito interessante chamado The Fall of an Icon: Psychoanalysis and Academic Psychiatry [A Queda de um Ícono: Psicanálise e Psiquiatria Acadêmica], de Joel Paris (2005]). É uma história da ascensão e queda da psicanálise dentro da psiquiatria acadêmica americana. É realmente muito bom. E não é anti-analítica. É crítica, mas diz que a razão pela qual a psicanálise declinou foi porque não produziu dados de eficácia. Não é uma crítica da análise em si.
Com o comitê de contato, eles não estavam criando critérios. Eles estavam fazendo formulações psicodinâmicas etiológicas.
Lane: É também o meu entendimento pela correspondência do DSM que os psicanalistas John e William Frosch foram trazidos, seguindo o comitê de contato, para ajudar a representar o lado psicodinâmico, embora isso tenha sido certamente alguns anos depois de as coisas já terem sido concluídas …
Spitzer: Bem, primeiro foi John, e depois John desistiu …
Lane: Sim. Há alguns detalhes sobre isto no artigo da Bayer, com John Frosch solicitando que a neurose de ansiedade permanecesse no DSM-III e que “um esforço fosse feito para definir quadros descritivos de referências para neurose antes de pendurar o termo …” Isso é do artigo. “Nada surgiu desta proposta”, continua o Bayer, “embora um ano e meio depois o argumento tenha sido mais bem sucedido”. Acho que naquele momento havia o ‘Tratado de Paz Neurótica’, como você o havia chamado, com algum tipo de compromisso.
Spitzer: Nossa, eu esqueci totalmente isso. Por isso, Frosch havia sugerido: “Não desista da neurose, vamos tentar criar um conjunto de quadros de referência”? Eu não sei o que isso teria significado. É interessante que a psiquiatria europeia também usava o termo “neurose”. Está lá no CID. Então quando eu disse, “No DSM-III temos que nos livrar da palavra ‘neurose’ porque tem um significado psicanalítico”, a resposta a isso teria sido, “Não necessariamente”, dada a classificação internacional. Portanto, poderíamos ter desenvolvido critérios para neurose que não seriam psicodinâmicos. Mas teria sido muito difícil.
Don Klein afirmou que o problema da neurose não era o critério de exclusão, mas o critério de inclusão. Em outras palavras, você não sabia se deveria incluir, digamos, os transtornos alimentares. Isso é neurose ou não? Você deveria incluir algum transtorno somatoforme?
Lane: O termo pode não excluir o suficiente …
Spitzer: Certo.
Lane: Mas você acabou de dizer – estou impressionado com isso – que a força-tarefa precisava “se livrar da palavra porque ela tem um significado psicanalítico”. Em vez de, digamos, porque tem uma etiologia pouco clara ou critérios pouco claros de exclusão.
Spitzer: Eu quis dizer que poderíamos ter feito uma tentativa de manter o termo ‘neurose’, mas teria sido …. Quero dizer, não sei qual teria sido o limite. Poderíamos ter mantido o DSM tradicional e ter tido, você sabe, um Transtorno de Humor Dissociativo. Mas isso teria feito… Queríamos manter todos os transtornos de humor juntos, fossem eles psicóticos ou não. Então, o que você teria feito? Teria que haver Depressão Neurotica, Depressão Psicótica, e essa distinção tinha meio que caído no esquecimento.
Lane: Então ninguém disse: “Bem, veja, se a gente se voltar para o CID-8 a gente verá de fato que os europeus mantêm o termo …”.
Spitzer: Não, ninguém fez isso.
Lane: Teria sido interessante se eles o tivessem feito. O que você teria feito?
Spitzer: Bem, teria sido um argumento difícil. Eu teria dito: “Seria difícil definir quais seriam os limites dessa categoria”. Agora é verdade que os europeus a usam e eles não significam conflito inconsciente. Suponho que a razão pela qual eles a usam é da história de Freud e das categorias que ele reconheceu e desenvolveu. Freud não reconheceu os transtornos alimentares. Se o tivesse feito, ele poderia tê-lo considerado uma neurose.
Lane: Possivelmente. Em seus estudos de caso há várias referências a não comer , e assim por diante, mas sim, não enquanto transtornos de pleno direito.
Spitzer: Mas falando sério, Bill Frosch foi o único membro da Força Tarefa que levantou a questão “Devemos ter critérios de diagnósticos no DSM-III? Ele disse que deveríamos ter dois manuais: um para pesquisadores, que teria critérios diagnósticos, e o outro não, para clínicos. E nós rejeitamos isso. Queríamos ter um sistema semelhante. Mas falando sério, o único membro psicanalítico da Força Tarefa …!
Lane: Então ele continuou a trabalhar com Bill …?
Spitzer: Não, Bill substituiu John. Eu não sei por que John partiu. Não sei se ele partiu porque sentiu que não estávamos utilizando os seus talentos ou talvez porque ele tivesse outras coisas a fazer. Mas ele foi embora.
[Christopher Lane em 2022: A enigmática carta dele de demissão é reproduzida em Shyness, p. 60: “Respeito os esforços e a energia dos participantes, mas não posso deixar de me perguntar às vezes —-“].
Lane: Mas então, novamente, eu acho que ele também não conseguiu …
Spitzer: …. a comunidade psicanalítica a bordo?
Lane: Não, as perspectivas psicanalítica e psicodinâmica representadas no manual…
Spitzer: Não, não. Antes de mais nada, ele estava sozinha. Acho que eles nunca esperaram que ele fizesse muito. Ele era praticamente uma figura simbólica.
Lane: Hmm. Mais algumas perguntas, se não se importa. Eu queria perguntar sobre alguns diagnósticos que você descreveu como promissores, mas que não foram incluídos no DSM-III porque os critérios não foram “desenvolvidos o suficiente”. Um deles foi ” Transtorno Disfórico de Fase Lútea Tardia”, finalmente renomeado Transtorno Disfórico Premenstrual.
Spitzer: Bem, quando surgiu o DSM-IIIR [7 anos mais tarde, em 1987], nós o propusemos e ele acabou indo para o Apêndice.
Lane: Eu gostaria de perguntar sobre este padrão mais amplo – o processo pelo qual alguns transtornos foram descartados, como o Transtorno de Personalidade Introvertida, mas outros pareceram suficientemente encorajadores para você incluir ou colocar no Apêndice para possível inclusão futura. Estas decisões foram vinculadas à preocupação com falsos positivos?
Spitzer: [Rindo] Bem, eu não sei se Introvertido foi além de uma simples carta minha. Não me lembro de nenhuma discussão em que… Eu escreveria todas estas cartas novamente às pessoas, e se houvesse algum ponto que eu achasse simpático ou que muitas outras pessoas achassem, eu as traria de volta, se fosse apenas uma ideia. Você sabe que alguns junguianos disseram: “Se deveria ter um transtorno de personalidade introvertido”, e eu achei que não era uma idéia promissora. Portanto, o Comitê de Personalidade nunca ouviria falar disso. Ou eu poderia enviar-lhes uma carta, eu não sei.
Nós não pensamos muito em falsos positivos. Você está familiarizado com Jerry Wakefield e sua crítica? Ele escreveu “Transtorno como Disfunção Prejudicial”: A Conceptual Critique of DSM”, “Definindo Transtorno Mental”, e outros. Ele estava muito preocupado com falsos positivos e achava que a definição do DSM de transtorno mental era muito ampla a respeito de muitos transtornos situacionais que são essencialmente uma reação normal a esse contexto. Portanto, ele estava muito preocupado com os falsos positivos, mas isso não era algo em que estivéssemos de forma alguma preocupados.
Lane: Houve alguma discussão, também, sobre o papel das empresas farmacêuticas em ajudar a empurrar e popularizar os novos transtornos incluídos no DSM-III – por exemplo, Upjohn, fabricante de Xanax, sobre a inclusão dos transtornos de pânico. Isaac Marks me contou recentemente sobre uma conferência-chave em Boston sobre pânico que a Upjohn havia patrocinado e que estava tentando “operacionalizar” seus critérios.
Spitzer: O que ele disse?
Lane: Ele disse que o CEO tinha se levantado para falar e declarou que havia três razões pelas quais Upjohn estava lá, interessando-se pelo assunto e por sua potencial inclusão no DSM: a primeira era dinheiro. A segunda era o dinheiro. E a terceira era dinheiro. As marcas eram maravilhosas por serem ostensivas – por nem sequer tentarem mascará-las.
Spitzer: O que aconteceu: durante o desenvolvimento do DSM, Upjohn estava fazendo marketing e estudos sobre Xanax. Houve uma reunião do comitê para a qual eles pagaram – acho que doaram – um lugar, um local onde nos reunimos para a Convenção, e eles pagaram por isso, o que foi um erro de nossa parte. Nós nunca deveríamos ter feito isso.
Mas eles não tiveram influência sobre nenhum critério ou sobre o nome. Portanto, esta coisa de termos sido influenciados por produtos farmacêuticos é algo que eu apenas, digo, é simplesmente um absurdo. Nunca houve qualquer discussão. Eles nunca fizeram nenhuma tentativa, sabe, “gostaríamos que vocês a definissem de forma mais ampla” ou qualquer outra coisa. Isso nunca aconteceu.
Eles ficaram encantados por termos tido a categoria transtorno de pânico, porque sentiram que tinham uma droga para isso. Mas eles nunca tentaram influenciar como os critérios foram desenvolvidos ou qualquer outra coisa.
Lane: Eu destacaria vários artigos na imprensa detalhando percentagens muito altas de membros do comitê DSM que também recebem dólares da indústria farmacêutica para as suas pesquisas. Quando eu também vejo, digamos, GlaxoSmithKline citando vários líderes-chave de opinião em psiquiatria sobre transtornos de ansiedade social – por exemplo Murray Stein, também um representate da Indústria Farmacêutica – dizendo que há uma severidade contínua de 2% a cerca de 18% de uma população, quase um em cada cinco, dependendo do cenário, a GSK sempre anunciará: ‘Especialistas como o Dr. Stein dizem que até 18% podem ser afetados’. Dessa forma, um transtorno que era em grande medida clinicamente invisível alguns anos antes, porque não estava no DSM, de repente se torna o terceiro transtorno mais diagnosticado nos EUA, após a depressão e o alcoolismo. Isso levanta muitas bandeiras sobre a inclusão no DSM, bem como sobre as decisões de sua força-tarefa de incluir, e como, e que conflitos de interesse estavam operando.
Spitzer: Você está dizendo que as empresas farmacêuticas têm tendência a aumentar a prevalência de transtornos para os quais têm um tratamento? Com certeza. Há outro fenômeno interessante: os pesquisadores também dão prevalência máxima aos transtornos pelos quais eles têm um interesse particular. Em outras palavras, se você está realmente interessado nos transtornos de pânico, você terá a tendência a dizer que é muito comum. Você nunca ouve um especialista dizer: “Meu transtorno é muito raro”. Nunca. Eles sempre tendem a ver isso como mais comum.
Lane: Por outro lado, é difícil quando as ramificações culturais de tal maximalismo são extensas ...
Spitzer: Mas eu não vejo como isso é um problema do DSM.
Lane: Bem, na medida em que a inclusão, digamos, do Transtorno Disfórico da Fase Lútea Tardia no Apêndice DSM apresenta oportunidades para uma maior pesquisa …
Spitzer: Na verdade, essa é a única categoria no Anexo para a qual a FDA aprovou um tratamento [Sarafem/Prozac], o que é um tanto quanto interessante. Antes, a FDA só aprovava tratamentos para doenças reconhecidas.
Lane: Então, como isso aconteceu?
Spitzer: Bem, havia provas suficientes de pesquisa sugerindo que era uma categoria válida, o que eu acho que é. Então eu acho que Eli Lilly [fabricante de Prozac e Sarafem] os convenceu de que, embora esteja apenas no Apêndice, uh, nós temos um medicamento para isso. Quero dizer, a única razão pela qual está apenas no Apêndice é a oposição feminista a ela. Caso contrário … E estará no DSM-5 ou algo parecido.
Lane: Poderíamos fechar com o DSM-5 e a futura trajetória do campo? Que outras categorias e condições você acha que provavelmente serão incluídas, ou deveriam ser?
Spitzer: Bem, eu acho que o Transtorno Disfórico Premenstrual certamente será. O Transtorno Alimentar certamente será como uma categoria oficial. Há interesse em comportamento sexual compulsivo. Há até mesmo algum interesse em compras compulsivas. Acho que isso será problemático porque as pessoas dirão: “Você sabe, você está apenas expandindo para qualquer coisa que seja considerada excessiva”. Há até mesmo o vício da Internet. Bem, quero dizer que as pessoas têm falado sobre isso. Elas escreveram sobre isso. Eu não acho que isso irá acontecer, mas…
Lane: Qual o seu senso, então, de pontos de corte viáveis ou aceitáveis para estas propostas?
Spitzer: Acho que em parte é uma questão de quão incapacitante … Existe realmente uma condição? Há pessoas que realmente são viciadas em coisas da Internet, análogas a outros tipos de dependência. Provavelmente há. Em que ponto você coloca o limite, não sei. Além disso, é uma função de “Há um tratamento?”. Se há um tratamento, a gente está mais interessada em obter a categoria. Se não há tratamento para a condição de saúde, não há tanta pressão para colocar a coisa em …
Você está perguntando: “Em que ponto se coloca uma nova categoria que parece estar em um continuum e parece ser uma forma exagerada de algo que é normal”? Eu não sei a resposta a isso.
Mas você sabe que nós tivemos o mesmo problema com o jogo. Jogar é um pouco mais fácil, porque se tornou tão obviamente prejudicial e incapacitante. Eu não sei o que vai acontecer com o computador ou com o vício sexual.
Lane: Existe algum momento em que estes vários subconjuntos de um transtorno voltem a cair em seu comportamento central, obsessivo-compulsivo? Não precisamos definir as várias formas que ela tomará, em suma, porque isso já está incluído …
Spitzer: Bem, eu acho que é diferente da TOC. É compulsivo, mas não tem a qualidade ego-alienígena. Quero dizer, a pessoa com TOC não gosta de lavar as mãos, porque tem medo de que, se não lavar as mãos, venha a sofrer de uma doença. Isso é muito diferente da pessoa que quer fazer qualquer uma dessas outras coisas: jogar ou … [perda da gravação].
Lane: Sim, a dinâmica do prazer-desprazer pode ser mais difícil de estabelecer lá … Eu li que em NeuroPsychiatry Reviews houve uma discussão sobre se a apatia deveria ser incluída …
Spitzer: Bem, por quê? Se existe um transtorno de apatia?
Lane: Sim, em grande parte devido aos efeitos colaterais dos ISRS. Isto me parece tautológico. Se as drogas estão criando efeitos colaterais, isso não deveria ser motivo para inclusão como um novo transtorno.
Spitzer: Sim, não é um transtorno, é um efeito colateral.
Lane: É também um problema médico. Existem claras razões médicas pelas quais os sistemas colinérgico e serotonérgico seriam fortemente afetados, especialmente após uma rápida retirada… Fico alarmado quando ouço efeitos colaterais…
Spitzer: … confundido com um transtorno? Eu concordaria… eu concordo com isso. Acho que há pessoas que pensam que existem transtornos de apatia primária. Talvez alguma coisa neurológica, eu não sei.
A única coisa que eu sei sobre o DSM-5 é que não terei nada a ver com isso. O que é algo que eu espero ansiosamente. [Risos].
Lane: Obrigado pelo seu tempo.
***
Mad in America recebe blogs de um grupo diversificado de escritores. Estes posts são projetados para servir como um fórum público para uma discussão-psiquiatria e seus tratamentos. As opiniões expressas são as próprias dos escritores.
Trad. Fernando Freitas
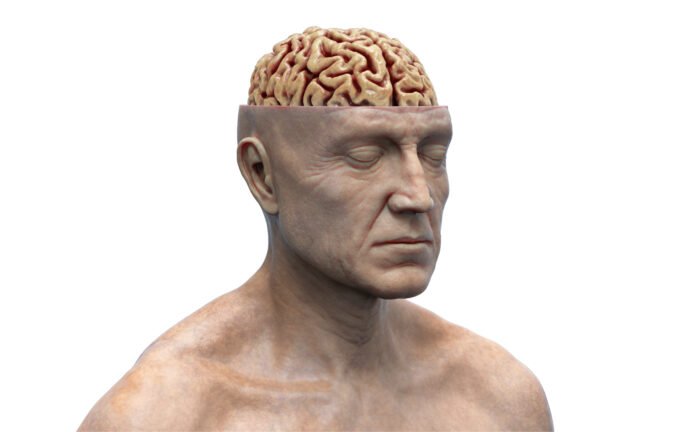 O estudo atual analisou os estudos de imagem do cérebro existentes comparando pacientes com MDD com sujeitos saudáveis de controle. Eles descrevem seu estudo como uma análise abrangente, analisando todas as várias modalidades de imagem para ver se eles poderiam encontrar alguma diferença cerebral existente. Eles também analisaram o escore de risco poligênico (PRS), uma medida complexa de risco genético.
O estudo atual analisou os estudos de imagem do cérebro existentes comparando pacientes com MDD com sujeitos saudáveis de controle. Eles descrevem seu estudo como uma análise abrangente, analisando todas as várias modalidades de imagem para ver se eles poderiam encontrar alguma diferença cerebral existente. Eles também analisaram o escore de risco poligênico (PRS), uma medida complexa de risco genético.








 O psiquiatra da Universidade de Columbia mostra como os críticos podem ter desacreditado estas e outras mudanças; suas decisões sobre inclusão, exclusão, expansão e renomeação; as controvérsias que se acumularam sobre a psicanálise e abordagens psicodinâmicas; a relação da homossexualidade com o desenvolvimento normal; o risco de falsos positivos e de patologizar as reações normais; e o papel que as empresas farmacêuticas desempenharam no patrocínio de pesquisas e conferências-chave utilizadas para justificar alguns dos novos transtornos.
O psiquiatra da Universidade de Columbia mostra como os críticos podem ter desacreditado estas e outras mudanças; suas decisões sobre inclusão, exclusão, expansão e renomeação; as controvérsias que se acumularam sobre a psicanálise e abordagens psicodinâmicas; a relação da homossexualidade com o desenvolvimento normal; o risco de falsos positivos e de patologizar as reações normais; e o papel que as empresas farmacêuticas desempenharam no patrocínio de pesquisas e conferências-chave utilizadas para justificar alguns dos novos transtornos.







