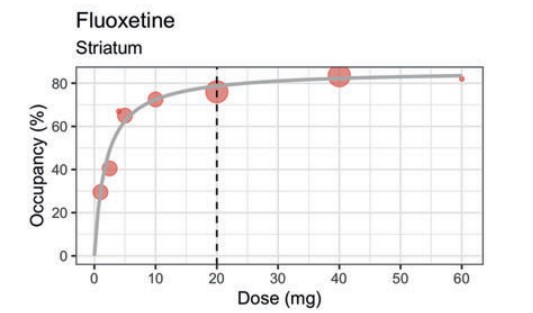Por favor, doutor/mais delas/
Fora da porta, ela tomou mais quatro….
A vida é muito difícil hoje em dia
Eu ouço todas as mães dizerem
A busca da felicidade parece tão entediante/
E se você pegar mais algum delas,
Você vai ganhar uma overdose
E nada mais de correr para o abrigo
Do ajudantezinho da mamãe.
Elas apenas a ajudaram no seu caminho
Através de seu dia de trabalho mortal.
Jagger-Richards “Mother’s Little Helper” (minha tradução).
O fim parecia haver chegado numa noite de maio de 2012, quando o meu psiquiatra anunciou por telefone que ele não iria mais prescrever os benzodiazepínicos que havia começado a prescrever para mim três anos antes. Até então eu estava tomando, sob sua suposta supervisão médica, três tipos de ansiolíticos, tomando até 6 miligramas por noite, junto com um antipsicótico que outro psiquiatra me receitara, não me lembro quando, porque, em suas palavras: “Você não pode dormir por causa da ansiedade. É por isso que você vai tomar a Olanzapina” (como se a Olanzapina “curasse” a ansiedade). Agora, além disso, o médico tinha acabado de me receitar outro medicamento, porque, segundo ele, eu também tinha TDAH. Naquela época, eu era então um armário ambulante de medicamentos. E de drogas psicotrópicas. Parecia que eu as usava todas. Então, após o anúncio abrupto do psiquiatra (que nunca me deixou claro porque tomou essa decisão), tive uma onda de terror. O que eu faria sem os ansiolíticos? De todos os que eu estava tomando, os benzodiazepínicos eram os únicos controlados. Ainda me lembro que as instruções dentro das caixas diziam (acho que ainda dizem) que, devido ao seu potencial viciante, eles só são recomendadas em casos muito específicos e em caso de emergência médica. Em outras palavras, apenas para crises temporárias. O psiquiatra os prescreveu, de acordo com isto, para me ajudar a dormir. E quando eu lhe disse, em uma sessão, que estava preocupada com o perigo do vício, porque, depois de alguns meses tomando-as, já me sentia viciada. Ele sorriu desdenhosamente e me disse, num tom paternal, que eu estava sob “controle médico” e que eu não tinha nada com que me preocupar. Eu disse a ele, brincando, que meu revendedor não estava em Tepito, mas no Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. Mas ele não sorriu de volta. Em retrospectiva, eu estava lhe contando uma enorme verdade. Uma verdade que finalmente me atingiu na cara. E também em retrospectiva, sei que ele não se divertiu com a minha piada porque sabia que era verdade. Mas isso não o impediu de prescrever durante três anos. Três anos. E o tempo estimado de início do vício, acho que li isso mais tarde, quando eu estava desesperadamente procurando informações em artigos e livros científicos, é de três semanas.
Assim, inesperadamente, isso me deixou sem os meus Pequenos Ajudantes. Até então, “curada” da insônia e até mesmo da depressão, e, sem me dar conta, eu estava passando o dia, todos os dias, com drogas. Mas eu não era uma “viciado em drogas”: eu tinha uma doença mental (ou, como eles agora eufemisticamente a chamam, “neurodivergência”, como se perfumar o termo o tornasse mais acessível), ou várias doenças, dependendo do médico, causadas por um desequilíbrio químico no cérebro, por isso eu estava sob acompanhamento médico. Não havia nada a temer. Minha vida já estava em pedaços nessa época, mas eu estava tão alta que não sabia disso. Sem emprego, sem relações significativas, sem filha, cuja ausência eu quase não notei. Mas não, não se tratava de drogas. Os dependentes de drogas – e eu deveria saber disso bem, pois sou psicóloga – usam coisas ilegais de proveniência duvidosa que eles conseguem no mercado negro. Eles também são alcoólatras, incapazes de controlar a sua compulsão. Eu, como muitas pessoas, principalmente mulheres, aprendi mais tarde, não era uma viciada em drogas: eu era uma respeitável profissional urbana de classe média que tinha transtornos mentais, o que eu divulgava amplamente porque, por Deus, é hora de remover o estigma da doença mental, e, graças aos avanços da medicina, só tínhamos “desequilíbrios químicos” no cérebro que podiam ser curados com um, ou cinco, ou dez comprimidos. Prescritos por médicos respeitáveis dentro de instituições respeitáveis.
Então, tudo explodiu na minha cara naquela tarde de maio de 2012. Depois que o médico desligou na minha cara, após uma frase que me soou algo como “Faça como quiser”, eu entrei em pânico. Mas acalme-se, o ISSSTE está cheio de médicos que vão continuar receitando para mim, porque preciso disso para continuar funcionando, certo? Ou, na pior das hipóteses, não faltam pessoas que possam comprar receitas médicas no mercado negro. É isso aí. Isso é tudo o que há.
Mas não. Ainda hoje eu me pergunto de onde veio essa voz pela primeira vez. Não era uma personalidade diferente ou um estrangeiro falando comigo. Fui eu. E o que aquela voz me disse foi que iria parar por aí e agora. Que não ia me arrastar para conseguir pílulas. Nessa época eu já estava vivendo sozinha e não precisava depender de ninguém para cuidar de mim. E que eu ia arcar com as conseqüências, quaisquer que fossem elas.
Quando depois de dois dias fiquei sem todos os comprimidos que tinha, começou a síndrome da abstinência. Lembro-me dos primeiros dias em que meu corpo inteiro estava pedindo comprimidos. O engraçado é que me pareceu como se este clamor de todas as minhas células fosse completamente estranho para mim. Eu simplesmente o ignorava. Depois veio o vômito, o tremor e o aperto de cada músculo. E a sensação de congelamento, e dentro de três minutos morrendo de calor. E então veio a vingança das pílulas. Quando depois de três ou quatro dias meu corpo parou de gritar por comprimidos, todas as noites, sem falta, vinham os ataques de pânico, cujo principal sintoma era uma espécie de gelo no sangue. Não sei qual a melhor maneira de descrevê-lo. Uma vez li em uma revista que os ansiolíticos eram como um empréstimo do banco: tudo bem e elegante no início, mas depois você tem que pagar de volta. E assim foi. Parecia que toda a ansiedade acumulada (e supostamente reprimida) de tantos anos se manifestava em infernos gelados todas as noites e que ia até o amanhecer, apenas duas ou três horas de descanso de pesadelo.
Com a única idéia de que isso me ajudaria a superar a retirada, eu implorei por um encontro com o meu psiquiatra. Ele me recebeu com relutância e muito rudeza. Lembro-me que no consultório havia uma mulher com um roupão, sentada em seu lugar habitual enquanto ele se sentava em outro lugar, o que me pareceu estranho. Ele me disse, com um encolher de ombros, para não me preocupar, que eu iria superar isso. Quando lhe perguntei por que ele havia feito isso, ele apenas disse, sem me olhar nos olhos, “era iatrogênico”. Eu não tinha idéia do que ele estava falando; eu não sabia até algum tempo depois, quando estava lendo um livro sobre Direito procurando materiais sobre Bioética, li o que aquela palavra significava, e meus olhos se encheram de lágrimas. Um erro médico. Eu fui um erro médico. E nem sequer me pediram desculpas. Eu me senti como um experimento fracassado que tinha sido enganada para participar. E então teria sido expulsa.
A síndrome de abstinência como tal durou algumas semanas. Eu não pedi ajuda novamente, pelo menos para não passar por isso. Em algum lugar no fundo da minha mente, aquela voz me disse que era importante para mim passar por isso sozinha, para que eu não fosse tentada a tomar pílulas novamente. Na realidade, era algo muito mais do que isso. Ao passar por tudo isso sozinha, sem ajuda de qualquer tipo, eu estava começando a tocar um acorde que eu nunca havia tocado, nem mesmo nos piores momentos de minha vida, e que até então eu não sabia que tinha tocado, porque a partir daquele momento, eu sabia que se não o fizesse daquela maneira eu certamente iria morrer.
Eu ainda me pergunto como consegui fazer isso. Na verdade, toda a minha vida, desde que me lembro, tenho tido medo de estar sozinha, ou, mais especificamente, da solidão. Por causa desse medo, fui viver com o homem que se tornaria o pai de minha filha e me agarrei a ele em onze anos infernais até que ele me deixou. E de lá fui em uma busca angustiada para encontrar um namorado, um parceiro, alguma coisa. Eu não poderia estar sozinha. Só de pensar nisso, eu entrava em pânico. Mas a voz me disse que, para viver, eu tinha que fazê-lo.
O primeiro sinal de que algo estava mudando em mim, para que eu pudesse superar a abstinência, em vez de me agarrar passivamente (e rezar para que eu não morresse nesse meio tempo), foi pura intuição. Uma noite em meio a um ataque de pânico, quando eu não podia mais suportar o sangue gelado, a taquicardia, o terror de cair em um poço sem fundo e que agora eu realmente iria morrer, eu simplesmente me sentei na cama e, fechando os olhos, parei de resistir ao ataque. Não sei como consegui no pânico, mas disse a mim mesma, com aquela voz da parte de trás do meu cérebro, que passaria mais rápido se eu não fizesse nada. Levei várias noites, mas aos poucos os ataques de pânico foram diminuindo até finalmente desaparecerem. Só por não resistir a eles. Até hoje, se algo começa a me deixar ansiosa, eu simplesmente fecho os olhos, respiro e deixo passar. Mais tarde, quando aprendi a meditar (e li sobre a filosofia budista), soube que tinha feito o que os budistas aconselham com base em uma premissa: tudo é transitório.
Lembro-me muito claramente de uma manhã quando, da minha cama, disse a mim mesma que me sentia melhor, que eu tinha sido capaz de lidar com a abstinência e que a tinha vencido. E, naquele momento, a voz me disse gentilmente: “Agora é quando começa o verdadeiro teste, porque tudo, tudo são relações sociais”, me dando a entender que eu teria que enfrentar o mundo exterior, que eu estava sozinha e que não tinha a menor idéia do que fazer.
O mergulho em tudo isso aconteceu numa manhã, pouco depois, quando olhei meu rosto no espelho. Obviamente, eu me olho no espelho todos os dias. Mas daquela vez foi terrível. Descobri meu rosto sulcado de rugas. É claro que, por mais feroz que fossem os sintomas de abstinência, eles não sairiam da noite para o dia. Mas até então eu nem tinha notado. Acho que foi o golpe mais assustador que já recebi. Eu já tinha 50 anos de idade, e meu rosto estava cheio de rugas. Foi um momento que eu ainda tenho dificuldade de lembrar até hoje. Naquele momento eu percebi que havia perdido muito, muito tempo. Todos os projetos que eu havia iniciado há 20 anos, todas as minhas ilusões e o modesto nome que comecei a fazer para mim mesma no meu campo com tão bons presságios foram quebrados quando percebi, não só o enorme desperdício, mas também que fisicamente nunca mais seria a mesma. Por que, então, tanto esforço para sobreviver agarrando-me à minha intuição?
De acordo com a minha trajetória de vida, nesse ponto eu teria muito bem começado a me deixar morrer. Porque, como esse pensamento me inundou, fui tomada de um enorme sentimento de culpa, e a sua irmã, a vergonha. Como eu poderia ter feito isso? Por que eu o fiz? Eu destruí minha vida e só mereço morrer. Uma culpa e uma vergonha que ainda estou trabalhando, embora hoje apenas com o gosto residual. Mas naqueles momentos a sensação era esmagadora. Senti que estava num abismo arranhando as paredes sem saber como sair.
No início, foi tudo raiva dos psiquiatras que me haviam colocado ali. O primeiro, aquele com o Olanzapina para “angústia” e diagnósticos com o etiquetas de post, eu dei o apelido de “O Egocêntrico Cego”, porque era tão óbvio que ele me tinha levado como animal de estimação para fazer experimentos. E, quando eu lhe disse que Olanzapina tinha me engordado (pesava 120 quilos, o dobro do meu peso normal), e que eu tinha desenvolvido diabetes e um problema cardíaco por causa disso, o que eu tinha descoberto lendo artigos científicos, e não porque ele me dissesse, ele me dispensou dizendo que eu estava gorda “por comer batatas fritas”. O outro psiquiatra que apelidei de “O Covarde Sorridente”, porque ele me tornou uma viciada “com rigoroso controle médico”, e depois me jogou no abismo para conseguir o melhor que podia, quando viu o resultado de seu “iatrogênico”, e sempre com um sorriso no rosto. Foi um longo tempo de ódio a eles, de planejamento na minha cabeça de mil e uma exigências. Demandas que eu estava muito fraca e doente demais para enfrentar, e ainda mais porque sabia que estava sozinha.
E então novamente veio a voz: eles têm muita responsabilidade pelo que aconteceu com você, mas por enquanto você não pode fazer nada contra eles, nem mesmo para chamar a atenção para isso para que não continuem a fazer coisas “iatrogênicas” a outras pessoas. E eu também sabia muito bem que, como médicos, eles eram protegidos por uma sociedade que os via (até hoje) como heróis, como salvadores, como messias. Por que não? Eu também tinha caído sob o seu domínio. Eu tinha sido levada por uma fé cega de que eu estava “em boas mãos”, que eles sabiam o que estavam fazendo, e que estavam apenas cuidando do meu bem-estar. E meu foco mudou muito lentamente deles para mim: preciso saber o que aconteceu, o que eu fiz para ter permitido que a minha vida fosse destruída a tal ponto, o que aconteceu? E para fazer isso, eu sabia que tinha que mergulhar no passado. Se eu ia enfrentar as conseqüências, eu tinha que pelo menos saber por quê. Eu não poderia morrer sem pelo menos saber. Embora eu tenha sentido que, se eu tivesse me colocado nessa posição, era para reprimir as memórias. Mas era melhor saber.
Até hoje eu não sei se o AVC foi o resultado da síndrome da abstinência (tão brutal que era) ou se a conseqüência do uso prolongado de ansiolíticos, se eu realmente o tinha, o que ainda duvido muito. O fato é que um dia comecei a perceber que, apesar de saber ler, não conseguia entender nada. Eu podia escrever, mas só podia escrever de forma incoerente. Que houve episódios em minha vida, como uma vez checando a internet e descobrindo, para meu horror, que eu tinha dado uma entrevista na televisão em meus dias de benzodiazepina, e que não me lembrava de absolutamente nada, ou de pessoas falando comigo e nem mesmo lembrando de tê-los conhecido. E o pior foi que, ao falar com alguém em minhas raras saídas fora de casa, quem quer que fosse, fiquei presa em plena conversação porque, embora eu soubesse exatamente o que queria dizer, não conseguia encontrar as palavras para dizê-lo. E as pessoas começaram a me evitar, o que me fez sentir ainda mais só.
Passaria mais de um ano até que me enviassem para uma ressonância magnética e descobrissem que eu tinha 8 microturbações. Em que momento, eu não tenho idéia, e ainda, por várias razões, duvido desse diagnóstico, mas descobri mais tarde que tinha afasias.
Entretanto, naquela época eu pensava que estava, agora eu estava, de fato, caindo vítima de alguma doença mental grave, o que aumentou minha culpa e vergonha. E como sempre preferi morrer em vez de parar de ler (sou uma verdadeira bibliófila), eu disse a mim mesma que nenhuma doença mental seria mais poderosa do que eu, que se eu tivesse sobrevivido à abstinência não iria morrer sem ler novamente. E eu comecei a ler durante horas e horas, lendo em parágrafos. Eu também comprei um livro de palavras cruzadas. Levei meses para resolver o mais fácil, mas chorei lágrimas de alegria quando consegui fazê-lo. E eu voltei, com o passar do tempo, à leitura e à escrita. O discurso foi mais lento para ser resolvido, porque, isolando-me de praticamente todos, eu não praticava muito. Ainda hoje, ocasionalmente, fico com uma palavra presa quando falo, e hoje trabalho na frente de grupos, como fiz tantos anos antes, mas não tenho mais medo: simplesmente digo que não consigo me lembrar da palavra exata, que me lembrarei dela mais tarde, e lembro. Ninguém sabe que passei por isso, assim como praticamente ninguém sabe, até agora, que tudo foi causado pelo meu vício em ansiolíticos. E explicarei o porquê mais tarde.
Levei quase um ano antes de ousar comprar um caderno e começar a escrever, determinada a lembrar. Eu tinha guardado um “diário” desde adolescente e tinha desistido dele quando entrei na universidade. Então, voltei a escrever. Mas não ia ser na forma de um diário. Nela, deixei essa voz como uma espécie de alter ego, cujo diálogo me permitiu refletir mais. Como eu o expressei, não era uma personalidade alternativa, nem mesmo uma que eu tivesse inventado. Fui eu, mas olhando para mim de fora. Como se eu fosse um terapeuta. E se alguém se pergunta por que eu não procurei terapia, é claro que procurei. Fui a neurologistas, até fisiologistas, psicólogos e eles até me enviaram a um psiquiatra que queria me dar terapia (como se eles estivessem treinados para isso) e a quem recusei quando descobri que era ele quem tratava o pai de minha filha. Ele ficou muito ofendido quando lhe disse, com toda a gentileza de que eu era capaz, que isto era um conflito de interesses (por nos tratar simultaneamente) e antiético porque, sabendo disto, ele não me disse, mas eu o descobri. Ele me jogou para fora do consultório, batendo a porta na minha cara. E a psicóloga, supostamente treinada em perspectiva de gênero, me reprovou desde o início por querer que ela me tratasse por Luisa em vez de María Luisa, que é meu primeiro nome, como se isso fosse muito importante. E também o outro psicólogo, a quem fui depois de me lembrar, supostamente um especialista em vítimas de violência sexual, assim como o outro que me tinha visto anos antes, apenas me culpou por tudo. E isso foi demais. Lá fora, sobre um banco e sentindo os olhares curiosos das pessoas que passavam, com meu rosto banhado em lágrimas, eu disse a mim mesma que teria que continuar enfrentando sozinha, sem ajuda.
Mas eu não o fiz. Pelo menos, não foi com a ajuda de profissionais. Quando todos, incluindo meus melhores amigos até então, literalmente me abandonaram, algumas desculpas balbuciantes, outras me julgando duramente por minha “fraqueza”, mas se afastando de mim como se fosse contagiosa, eu não estava completamente sozinha.
Eu sei que muitas pessoas têm pensamentos suicidas de vez em quando. Ao longo da minha vida eu os tive, mas eles não eram nada comparados com os que vieram até mim naquela época, a ponto de planejar seriamente minha morte. Eu sabia que seria um fato quando tudo parasse de ser importante para mim, até mesmo minha filha e meus gatos. Tudo. Isso foi na época da afasia. Eu já tinha o método (overdose de insulina) em mãos. A seriedade do pensamento e a iminência do que eu ia fazer me assustava muito. E então a voz ecoou no meu cérebro novamente, e eu liguei para meu irmão mais velho, dizendo a ele que se ele não fizesse algo, eu me mataria. Quem sabe que tom de voz eu devo ter usado, mas meu irmão, que nunca me levou a sério e que estava certo de dispensar minha ligação novamente, apenas respondeu que ele estaria lá em 10 minutos, para esperar por ele, algo incomum para ele, porque eu estava tirando-o do trabalho, algo sagrado para ele.
E ele chegou em 10 minutos (como ele fez isso, não sei porque não estava tão perto). E conversamos o dia todo. Contei-lhe sobre minha afasia, que na época eu não sabia que tinha e que eram doenças neurológicas, não mentais, sobre o desespero de estar sozinho e ter que enfrentar minha vida inteira em ruínas. Ele me disse que eu já havia feito tanto por mim mesma para sobreviver, e que sabíamos que era muito provável que eu tivesse morrido se não tivesse feito o que fiz. Embora eu considere que não tive ajuda de ninguém, ele, juntamente com o imenso apoio de outro de meus irmãos, que nunca me julgou e sempre esteve ao meu lado, salvou a minha vida. Junto com vários livros sobre Medicina, Bioética, Filosofia, Psicologia, como algumas obras de Freud e Jung que reli para entender o porquê, assim como o livro O Desconforto da Mulher: Tranquilidade Prescrita por Mabel Burín, que finalmente, junto com vários livros sobre filosofia budista, começou a me aliviar do terrível fardo da culpa e da vergonha.
Então embarquei em uma longa jornada de escrita, escrita, escrita. Lembrei que quando eu vivia com o pai de minha filha há dois anos, num ataque de ciúmes, ele me estuprou. Não se tratava de sexo forçado, pois o chamado especialista em violência sexual tentou minimizá-lo. Foi um estupro que ele levou a cabo sabendo muito bem onde ia doer mais, mantendo meu rosto esborrachado contra a cama. Apesar dos meus gritos, apesar da sensação de asfixia, apesar da dor, ele não parou até ficar satisfeito. Quando fui à terapia, o terapeuta me disse que eu tinha ganho “mostrando minhas pernas”, para assumir a responsabilidade. E essa foi a entrada para um túnel escuro, onde fiquei com ele “esquecendo” o que havia acontecido, sentindo-me muito culpada e grata por ele não me ter deixado. Naquela época eu estava começando a emergir como profissional, e a ganhar muito dinheiro. Tudo isso foi para apoiar a casa e nossa filha. Ao mesmo tempo, comecei a ter depressões muito fortes. Com o estupro “esquecido”, eu não tinha idéia da fonte. E então fomos, por sua insistência, ao terapeuta de um casal, para “salvar o relacionamento ou ajudá-lo a ter uma boa morte”, como suas palavras exatas assim foram. Eu era como um zumbi, obediente como sempre. E então o terapeuta me enviou ao primeiro psiquiatra, que prescreveu o antipsicótico para “angústia de não conseguir dormir”.
A violação, no entanto, não foi o começo de tudo. Eu queria ir ainda mais longe e comecei a ver minha vida como uma sucessão de traições a mim mesma. Eu simplesmente não sabia. Nesta longa jornada, comecei a ver minha vida como nunca a tinha visto antes, apesar de ter feito terapia várias vezes. Não era muito agradável, e muitas vezes me forçava a escrever em lágrimas, mas eu sabia que tinha que enfrentá-lo se quisesse viver, não sobreviver. Com a mesma técnica intuitiva da voz alternada que me vê de fora, firme mas amorosa, eu tive muitas epifanias. Entre elas, que eu estava sendo curada do terror da solidão, uma força motriz muito poderosa em minha vida passada. E outra, muito importante, que eu não estava mais dependente das mentiras dos psiquiatras, porque, nem eu tinha tido crises psicóticas quando parei de tomar as pílulas, inclusive antipsicóticos (algo que me era dito constantemente), mas tinha aprendido a lidar com a ansiedade. Eu também estava aprendendo a lidar com a depressão com a mesma técnica que estava escrevendo: eu a vejo dinamicamente, como se fosse uma mortalha muito confortável, porque é algo muito familiar, ao qual recorro quando não quero lidar com algo. Aquela visão da depressão como um cobertor fora de mim que eu coloco e retiro me ajudou a entender algo muito valioso. Tanto que considero que é o maior presente que a vida me deu: que, ao contrário de tudo o que vivi durante toda minha vida, só de dentro de mim mesmo é a resposta para tudo. Para alguém que sempre viveu em torno da opinião, e aprovação, dos outros, que acreditava que olhar para dentro era aterrador e tinha que ser evitado a todo custo, porque estava destinado a ser vazio, fazendo exatamente isso foi o que mudou toda a minha vida.
Mostrar-me continuamente que através das coisas que estava fazendo minha vida estava se transformando, que estava fazendo tudo sozinha com a ajuda de minha intuição, e que tinha que aprender a confiar em mim acima de tudo, foi a revelação de minha vida. Eu tinha começado a olhar para dentro, e o que eu estava encontrando não era um recipiente vazio, mas o oposto.
Algo que foi fundamental em todo este processo foi repensar, como eu nunca ousara fazer antes, as minhas relações com os meus pais, que já estavam mortos. Naquela época, eu estava fervendo com perguntas, especialmente para a minha mãe, que morreu repentinamente aos 55 anos de idade e que me deixou (nos deixou) com uma sensação de orfandade que ainda permanece comigo hoje. Com fotos antigas, muitas lembranças e poucas perguntas para muito poucas pessoas, comecei a reconstruir a história pessoal de minha mãe, tentando chegar ao porquê, se sempre considerei arrogantemente que ela e eu éramos muito diferentes, sabendo então que eu repetia muito de sua história pessoal. E que ela também tinha repetido partes da história de sua mãe. Uma história de mulheres na minha família repetida ao longo de gerações. E o que nos uniu foi uma educação onde o abuso sexual, psicológico, verbal e físico era freqüente, onde nossa obrigação era pegar um homem e suportar o que fosse preciso para que ele não nos deixasse sozinhos. É assim que eu quero colocar as coisas de forma grosseira e sucinta. Cada um de nós, minha avó, minhas tias, eu, e quem sabe quantos outros, repetimos e repetimos os mesmos padrões.
Essa foi minha porta de entrada para entender o que aconteceu, o que fiz para deixar minha vida inteira nas mãos de outros, sem assumir a responsabilidade por isso. Que eu era muito influenciada por minhas idéias feministas? Na verdade, eu tinha sido uma “feminista” muito morna na época. Até ser confrontada com toda aquela dor, eu sabia como era realmente ser uma mulher nesta sociedade, porque sabia que compartilhava esta história com muitas, muitas mulheres. E eu sabia porque somos os clientes favoritos dos psiquiatras, e porque lutamos toda nossa vida sendo clientes de terapeutas que, longe de nos guiar ao nosso próprio confronto para obter resultados reais, nos mantêm por anos em terapias inúteis.
Mas não houve nenhum momento de “libertação”, nenhum “despertar espiritual” que é vendido a você em muitos cenários. Não houve, nem acredito que haverá, um momento “antes” e “depois”. O que quero dizer é que embarquei em um processo ao qual não vou encontrar um fim até morrer. Não me sinto “especial”, nem estou interessada em salvar alguém de nada, ou mesmo avisar alguém sobre qualquer coisa. Quando pedi ajuda a meus então “melhores amigos”, talvez por causa da perplexidade de me ver tão diferente, não sei, eles simplesmente pararam de falar comigo, mas não antes de passar julgamentos muito duros contra o meu “vício em drogas”. Até a minha própria filha, anos depois, gritou “viciada em drogas” comigo na rua quando eu lhe disse, algum tempo depois de não nos vermos, que eu não bebia mais nada e que a minha vida era muito diferente. E então eu me desliguei. Foi, e ainda é, mais fácil dizer que tudo o que eu passei foi por causa do derrame. E há muito tempo desisti, em minhas tímidas tentativas, de dialogar com muitas mulheres, apologistas de medicação psiquiátrica, porque preferem isso a enfrentar e resolver suas vidas. Como eu poderia culpá-las, se o fiz, e até hoje ainda estou lidando com a culpa disso?
Embora fisicamente eu tenha conseguido me recuperar (não parei de agradecer ao meu corpo por ter resistido ao que ele resistiu, e continua resistindo), minha auto-estima foi abalada. No processo, descobri que toda minha auto-estima, toda minha vida, tinha sido baseada apenas em uma coisa: minha suposta “inteligência”, que foi o que todos me elogiaram, até minha mãe seca, que em toda sua vida foi a única coisa que alguma vez me reconheceu, pelo menos verbalmente. Depois disso, não só tive que reaprender a ler, escrever e falar fluentemente, mas também, que inteligência se eu jogasse tudo fora ao permitir tanto? Eu não podia trabalhar porque tinha medo de ficar paralisada ao falar com qualquer pessoa (muito menos na frente de grupos, algo que tinha sido meu modo de vida até então e que me dava enorme prazer), e certamente tive algumas entrevistas para trabalhos realmente bons, mas sempre terminavam mal por causa disso. Para mim, durante muito tempo, o trabalho, uma vez tão abundante, terminou. Eu já estava tão acostumado à solidão, cuja evitação foi minha força motriz para toda a vida, que agora eu só queria estar sozinho. Muito mais fácil. Mas era algo que eu sabia que era insustentável, uma contradição em si mesmo. Eu não tinha sobrevivido tanto só para deixar que outros me apoiassem e para gastá-lo confortavelmente em uma concha. E outro processo começou, muito menos doloroso, mas igualmente desafiador: construir a auto-estima com algo que eu não tinha. Isto é, se eu tivesse que salvar a minha vida, recorrendo a forças e métodos que eu não sabia que tinha, e nunca pensei que tinha, agora teria que construir uma auto-estima sem que ela se baseasse inteiramente na minha “inteligência”. E a única coisa em que eu tive que construir foi exatamente o processo pelo qual tenho passado todos estes anos.
Embora eu saiba que a minha “inteligência” retém muito de sua centelha original, e que a intuição que usei para resgatar algo que precisava desesperadamente para sobreviver, o fato de quase tê-la perdido me tornou muito menos arrogante em relação a ela. Como eu digo: ensinou-me humildade. E isso me ensinou que há muito sobre o qual eu não tenho controle. Mas o que eu posso ter controle, vou planejar e exercitar.
Aprendi a confiar em mim mesma. Não tem sido fácil, mas se alguma vez escrevi para mim mesma que estava apenas escrevendo auto-indulgências, respondi que a prova de que eu não estava eram os resultados que obtive. E tudo, em muitos momentos, foi ter que confiar em mim mesma à força.
Quando eu estava no meio da afasia, quando passei meu tempo na igreja da colônia chorando, pedindo a Deus que por favor me arranjasse um emprego, como se isso fosse me tirar da confusão em que eu estava, um dia uma epifania veio até mim: nenhuma resposta virá de fora. Foi por isso que você esperou toda sua vida, e veja onde você está agora. Qualquer resposta virá sempre de dentro para você. O que é, é, e qualquer tentativa de disfarçar isso só vai desperdiçar seu tempo. Você já enfrentou coisas que só muitas pessoas passam enquanto estão sedadas (como a abstinência), e o fez com plena consciência. Depois disso, é claro que você pode lidar com as dores que você pensava que não poderia. E eu não voltei à igreja desde então. Nenhuma igreja. Eu não o faço por arrogância. Eu simplesmente prefiro, mesmo com todas as minhas dúvidas, e combatendo a vergonha e a culpa que ainda restam, recorrer a mim em qualquer crise. Não fazer isso necessariamente envolve depressão e muita ansiedade.
Então e agora? Em minha passagem pelas redes sociais, principalmente o Facebook, ao qual me uni exclusivamente para me forçar a interagir com outros perfis e onde ao longo do tempo pude me comunicar de forma mais eficaz e coerente, descobri que muitas pessoas entre meus contatos, especialmente mulheres, confessam livremente ser usuárias de drogas psiquiátricas, utilizando supostos diagnósticos psiquiátricos, como a síndrome do pânico Para mim foi uma revelação, que se encaixava perfeitamente em toda a literatura que eu havia revisado (especialmente os livros de Whitaker, sobre a questão médica, e de Burin, referindo-se a toda a cultura dos medicamentos prescritos e das doenças mentais aparentes como uma manifestação cultural onde nós mulheres somos muito bem exploradas – incrivelmente também aqueles que se autodenominam, mas este é um tópico que precisa de muito mais pesquisa do que eu posso dedicar a ele em alguns parágrafos), tanto mais que me identifiquei plenamente com eles: agarrado a um suposto diagnóstico (Desordem Bipolar, que desapareceu magicamente quando eu cortei qualquer medicação psiquiátrica para sempre). E não apenas isso: a reação que eles têm quando tentam falar sobre isso é a mesma reação que eu tive quando alguém me indicou que o uso dessas drogas era uma muleta: de uma defensiva tão visceral que vai até a violência. Por mais racional que você queira aparecer e dizer-lhes o que você passou, a rejeição costuma ser frontal e definitiva. Foi quando percebi que, além de parecer um cristão nascido de novo para eles (algo que me repugna enormemente), esta epidemia não vai ser combatida com comentários. É algo que tem que mudar em nível cultural, algo que nunca será fácil, mas que nunca irá embora se não o descobrirmos. Logo é preciso falar sobre isso. Neste momento até eu questiono não apenas o valor do que estou expressando aqui, mas o medo das conseqüências de começar a falar de um processo pessoal terrivelmente doloroso sem ser julgada ou discriminada. Mas eu tenho que fazer isso. Para mim e para todas as vítimas de um “iatrogênico” cultural que começa por acreditar que somos tão fracos e tão incapazes de pensar por nós mesmos que compramos para a vida a idéia de que a solução está a apenas um comprimido. Esta é a primeira vez que falo, ou melhor, escrevo, fora de muito poucas pessoas, sobre tudo isso. E eu queria me concentrar no que trouxe tudo isso: minha relação com as drogas psiquiátricas. Eu costumava dizer a mim mesma que saber que eu era parte de uma enorme massa que caiu nestes padrões de vida não me torna menos responsável, mas agora eu quero começar a falar sobre isso. Não como um cruzada, não como uma porta-voz. Repito que não estou interessada em ser o Iluminado de nada, nem em falar em nome de ninguém. Simplesmente porque a voracidade das empresas farmacêuticas, a irresponsabilidade dos médicos e suas “iatrogenias” e, acima de tudo, que uma vida além do estupor tão confortável é possível para aqueles que preferem nos ver assim (e em nós que não ousam acreditar em nós mesmos), me impulsiona cada vez mais a abandonar de uma vez por todas minha vergonha e a tentar fazer as coisas um pouco diferentes para alguém. Vamos ver.
….
Eu quis intitular este texto com o nome de uma canção dos Rolling Stones. Meu hábito de marcar
algumas passagens da minha vida com canções significativas, tão significativas que, ao ouvi-las em contextos específicos, elas provocam verdadeiras epifanias. Neste caso, a associação veio depois de uma, que chamei de A Decisão.
Em sua essência, a canção se refere a certas pequenas pílulas amarelas que a “mamãe” recorre para
para se acalmar diante das vicissitudes da vida. Os versos que traduzi são os que sempre me fazem chorar. Mas
agora somente porque sei que transcendi aqueles Mama’s Little Helpers.
….
Publicado originalmente em Mad in Mexico.