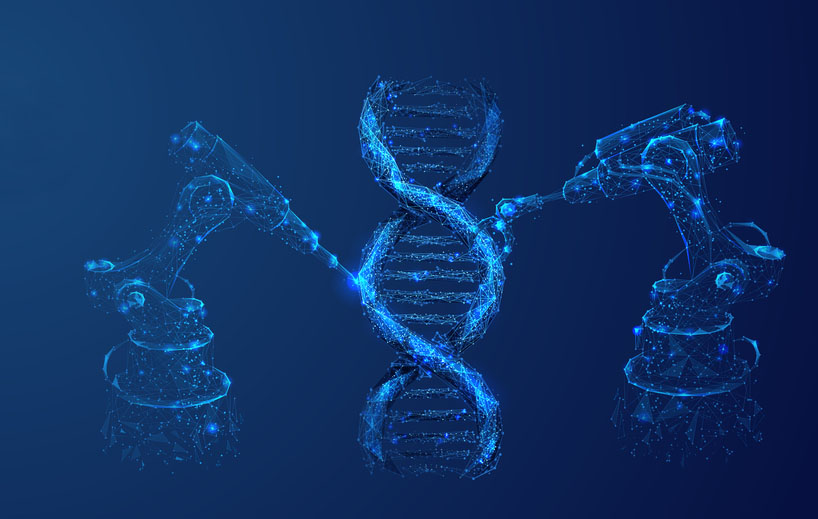A revisão abrangente da literatura científica feita por nós, que não revelou nenhuma ligação entre serotonina e depressão, causou um forte impacto junto ao público em geral, mas foi descartada como sendo notícia antiga por líderes de opinião psiquiátricos. Esta dissonância levanta a questão de porque o público tem sido alimentado por tanto tempo por esta narrativa e o que os antidepressivos estão realmente fazendo, visto que não estão revertendo um desequilíbrio químico.

Antes de continuar, devo salientar que não sou contra o uso de drogas para problemas de saúde mental per se. Acredito que algumas drogas psiquiátricas podem ser úteis em certas situações, mas a forma como essas drogas são apresentadas tanto ao público quanto entre a comunidade psiquiátrica é, a meu ver, fundamentalmente enganosa. Isto significa que não as temos usado com cuidado suficiente e, o que é crucial, que as pessoas não têm sido capazes de tomar decisões devidamente informadas sobre elas.
Muitas informações públicas ainda afirmam que a depressão, ou transtornos mentais em geral, são causados por um desequilíbrio químico e que as drogas funcionam corrigindo isso. A American Psychiatric Association atualmente diz isso às pessoas: “diferenças em certos agentes químicos no cérebro podem contribuir para os sintomas da depressão“. O Royal Australian & New Zealand College of Psychiatrists diz às pessoas: “Os medicamentos funcionam através do reequilíbrio dos agentes químicos no cérebro. Diferentes tipos de medicamentos atuam em diferentes vias químicas“.
Em resposta à descoberta feita em nosso artigo de que tais declarações não são apoiadas por evidências, os especialistas psiquiátricos têm desesperadamente tentado colocar o gênio de volta na garrafa. Haveria outros possíveis mecanismos biológicos que poderiam explicar como os antidepressivos exercem seus efeitos, dizem, mas o que realmente importa é que os antidepressivos ‘funcionam’.
Esta afirmação é baseada em ensaios randomizados que mostram que os antidepressivos são marginalmente melhores do que um placebo para reduzir os índices de depressão em poucas semanas. No entanto, a diferença é tão pequena que não está claro que seja sequer perceptível, e há evidências que podem ser explicadas através dos artifícios de como os projetos de pesquisa são desenhados, ao invés dos efeitos dos medicamentos.
Os especialistas continuam a sugerir que não importa como os antidepressivos funcionam. Afinal de contas, não entendemos exatamente como cada medicamento médico funciona, portanto, isto não deve nos preocupar.
Esta posição revela uma profunda suposição sobre a natureza da depressão e a ação dos antidepressivos, o que ajuda a explicar por que o mito do desequilíbrio químico tem sido permitido por tanto tempo. Estes psiquiatras assumem que a depressão deve ser o resultado de alguns processos biológicos específicos que eventualmente seremos capazes de identificar e que os antidepressivos devem funcionar visando estes processos.
Estas suposições não são apoiadas e nem úteis. Elas não são apoiadas porque, embora existam inúmeras hipóteses (ou especulações) além da teoria da baixa serotonina, nenhum corpo consistente de pesquisa demonstra qualquer mecanismo biológico específico subjacente à depressão que possa explicar a ação dos antidepressivos; elas são inúteis porque levam a visões excessivamente otimistas sobre as ações dos antidepressivos que fazem com que os seus benefícios sejam superestimados e seus efeitos adversos sejam descartados.
Depressão não é o mesmo que dor ou outros sintomas corporais. Embora a biologia esteja envolvida em toda atividade e experiência humana, não é evidente que manipular o cérebro com drogas seja o nível mais útil para lidar com as emoções. Isto pode ser algo parecido com o tratamento do disco rígido para corrigir um problema com o software. Normalmente pensamos em humor e emoções como sendo reações pessoais às coisas que acontecem em nossas vidas, que são moldadas por nossa história e predisposições individuais (incluindo nossos genes), e estão intimamente relacionadas com nossos valores e inclinações pessoais. Portanto, explicamos as emoções em termos das circunstâncias que as provocam e da personalidade do indivíduo. Para superar este entendimento de senso comum e afirmar que a depressão diagnosticada é algo diferente requer um conjunto estabelecido de evidências, não um conjunto de teorias possíveis.
Modelos de ação de drogas
A ideia de que drogas psiquiátricas podem funcionar revertendo uma anormalidade cerebral subjacente é o que chamei de modelo de ação de drogas “centrado na doença“. Ele foi proposto pela primeira vez nos anos 60 quando a teoria da depressão pela serotonina e outras teorias semelhantes foram desenvolvidas. Antes disso, as drogas eram implicitamente entendidas como funcionando de forma diferente, no que chamei de modelo “centrado na droga” de ação de drogas. No início do século XX, foi reconhecido que as drogas prescritas às pessoas com transtornos mentais produzem alterações nos processos mentais normais e estados de consciência, que se sobrepõem aos pensamentos e sentimentos pré-existentes do indivíduo. Isto é muito semelhante ao que entendemos sobre os efeitos do álcool e de outras drogas recreativas. Reconhecemos que estes podem sobrepor-se temporariamente a sentimentos desagradáveis.
Embora muitas drogas psiquiátricas, incluindo os antidepressivos, não sejam agradáveis de tomar como é o álcool, elas produzem alterações mentais mais ou menos sutis que são relevantes para seu uso.
Isto é diferente de como as drogas funcionam no resto da medicina. Embora apenas uma minoria de medicamentos médicos visem a causa última subjacente de uma doença, eles funcionam visando os processos fisiológicos que produzem os sintomas de uma condição de forma centrada na doença.
Os analgésicos, por exemplo, funcionam visando os mecanismos biológicos subjacentes que produzem a dor. Mas os analgésicos opiáceos também podem funcionar de forma centrada em drogas, porque, ao contrário de outros analgésicos, eles têm propriedades alteradoras da mente. Um de seus efeitos é adormecer as emoções; e as pessoas que tomam opiáceos para a dor muitas vezes dizem que ainda têm alguma dor, mas não se importam mais com isso. Em contraste, o paracetamol (tão freqüentemente citado por aqueles que defendem a ideia de que não importa como os antidepressivos funcionam) não tem propriedades alteradoras da mente e, portanto, embora possamos não compreender totalmente o seu mecanismo de ação, podemos presumir com segurança que funciona nos mecanismos da dor, pois não há outra maneira de funcionar.
Assim como o álcool e as drogas recreativas, as drogas psiquiátricas produzem alterações mentais gerais que ocorrem em todos, independentemente de terem ou não problemas de saúde mental. As alterações produzidas pelos antidepressivos variam de acordo com a natureza da droga (os antidepressivos vêm de muitas classes químicas diferentes – outra indicação de que é improvável que eles estejam agindo sobre um mecanismo subjacente), mas incluem letargia, agitação, turvação mental, disfunção sexual, incluindo perda de libido e entorpecimento das emoções. Isto sugere que eles produzem um estado generalizado de sensibilidade e sentimento reduzidos. Estas alterações obviamente influenciarão a forma como as pessoas se sentem e podem explicar a leve diferença entre os antidepressivos e placebo observados em ensaios aleatórios.
Influências
Em meu livro, O Mito da Cura Química, mostro como esta visão “centrada nas drogas” das drogas psiquiátricas foi gradualmente substituída pela visão centrada na doença durante os anos 60 e 70. A visão mais antiga foi apagada tão completamente, que as pessoas simplesmente esqueceram que os medicamentos psiquiátricos têm propriedades que mudam a mente.
Esta mudança não ocorreu por causa de evidências científicas. Ela ocorreu porque a psiquiatria queria se apresentar como uma empresa médica moderna, cujos tratamentos seriam os mesmos que outros tratamentos médicos. A partir dos anos 90, a indústria farmacêutica também começou a promover esta visão; e as duas forças estiveram combinadas para inserir esta ideia na mente do público em geral, no que tem que ser considerado como uma das campanhas de marketing mais bem sucedidas da história.
Além de querer se alinhar com o resto da medicina, nos anos 60 a profissão psiquiátrica precisou distanciar seus tratamentos do cenário das drogas recreativas. Os medicamentos mais vendidos da época, anfetaminas e barbitúricos, estavam sendo amplamente desviados para a rua (os populares “corações marcados” eram uma mistura dos dois). Portanto, era importante enfatizar que as drogas psiquiátricas estavam tendo como alvo uma doença subjacente, e para encobrir como elas poderiam estar mudando o estado de espírito comum das pessoas.
A indústria farmacêutica começou a aceitar os males produzidos após o escândalo das benzodiazepinas no final dos anos 80. Nessa época, tornou-se evidente que as benzodiazepinas (medicamentos como o Valium – “o pequeno ajudante da mãe”) causavam dependência física, assim como os barbitúricos que elas haviam substituído. Também ficou claro que elas estavam sendo distribuídas excessivamente para as pessoas (principalmente mulheres) para medicar as tensões da vida.
Assim, quando a indústria farmacêutica desenvolveu o seu próximo conjunto de comprimidos para a miséria humana, precisava apresentá-los não como novas formas de “afogar as mágoas”, mas como tratamentos médicos adequados que funcionavam retificando uma anormalidade física subjacente. Assim, a Pharma lançou uma campanha maciça para persuadir as pessoas de que a depressão era causada pela falta de serotonina que poderia ser corrigida pelos novos antidepressivos ISRS. As associações psiquiátricas e médicas ajudaram, incluindo a mensagem em suas informações para os pacientes em seus sites oficiais. Embora o marketing tenha morrido com a maioria dos antidepressivos não mais patenteados, a ideia de que a depressão é causada por baixa serotonina ainda é amplamente divulgada em sites farmacêuticos e os médicos ainda estão dizendo às pessoas que é o caso (dois médicos disseram isto na TV e rádio nacionais no Reino Unido nos últimos meses).
Nem a Pharma nem a profissão psiquiátrica tiveram qualquer interesse em estourar a bolha do desequilíbrio químico. As respostas dos psiquiatras ao nosso artigo sobre a serotonina deixam bem claro que a profissão deseja que as pessoas continuem sob o mal-entendido de que os transtornos mentais, como a depressão, demonstraram ser condições biológicas que podem ser tratadas com medicamentos que visam os mecanismos subjacentes. Ainda não descobrimos quais são esses mecanismos, eles admitem, mas temos muitas pesquisas que sugerem esta ou aquela possibilidade. Eles não querem considerar que pode haver outras explicações para o que drogas como antidepressivos estão realmente fazendo, e também não querem que o público o faça.
E há uma boa razão para isso. Milhões de pessoas estão agora tomando antidepressivos e as implicações de descartar a visão centrada na doença de sua ação são profundas. Se os antidepressivos não estão revertendo um desequilíbrio subjacente, mas sabemos que eles estão modificando o sistema de serotonina de alguma forma (embora não tenhamos certeza de como), temos que concluir que eles estão mudando a nossa química cerebral normal – assim como fazem as drogas recreativas. Algumas das alterações mentais que resultam, como o entorpecimento emocional, podem trazer alívio a curto prazo. Mas quando olhamos os antidepressivos sob esta luz, entendemos imediatamente que tomá-los por um longo período de tempo provavelmente não é uma boa idéia. Embora haja pouca pesquisa sobre as conseqüências do uso a longo prazo, evidências crescentes apontam para a ocorrência de efeitos de abstinência que podem ser graves e prolongados, e casos de disfunção sexual persistente.
A substituição da teoria da serotonina por garantias vagas de que mecanismos biológicos mais complexos podem explicar a ação das drogas só mantém a ofuscação, e permite a comercialização de outras drogas psiquiátricas por motivos igualmente espúrios. Johns Hopkins, por exemplo, está dizendo às pessoas que “a depressão não tratada causa danos cerebrais a longo prazo” e que “a esketamina pode neutralizar os efeitos nocivos da depressão“. Muito além dos danos à saúde mental das pessoas, ao ser-lhes dito que elas têm, ou em breve terão danos cerebrais, esta mensagem encoraja o uso de uma droga com uma base de provas frágil e um perfil de efeitos adversos preocupante.
A hipótese da serotonina foi inspirada pelo desejo da profissão psiquiátrica de considerar seus tratamentos como tratamentos médicos adequados e pela necessidade da indústria farmacêutica de distinguir suas novas drogas das benzodiazepinas que, no final dos anos 80, tinham trazido o medicamento da miséria humana para o descrédito. Esse mito exemplifica a forma como os medicamentos psiquiátricos foram mal interpretados e deturpados no interesse do lucro e do status profissional. É hora de fazer as pessoas saberem não apenas que a história da serotonina é um mito, mas que os antidepressivos mudam o estado normal do corpo, do cérebro e da mente de maneiras que podem ocasionalmente ser experimentadas como úteis, mas que também podem ser prejudiciais.
[Original, Blog da Joanna Moncrieff. Trad. e edição Fernando Freitas]